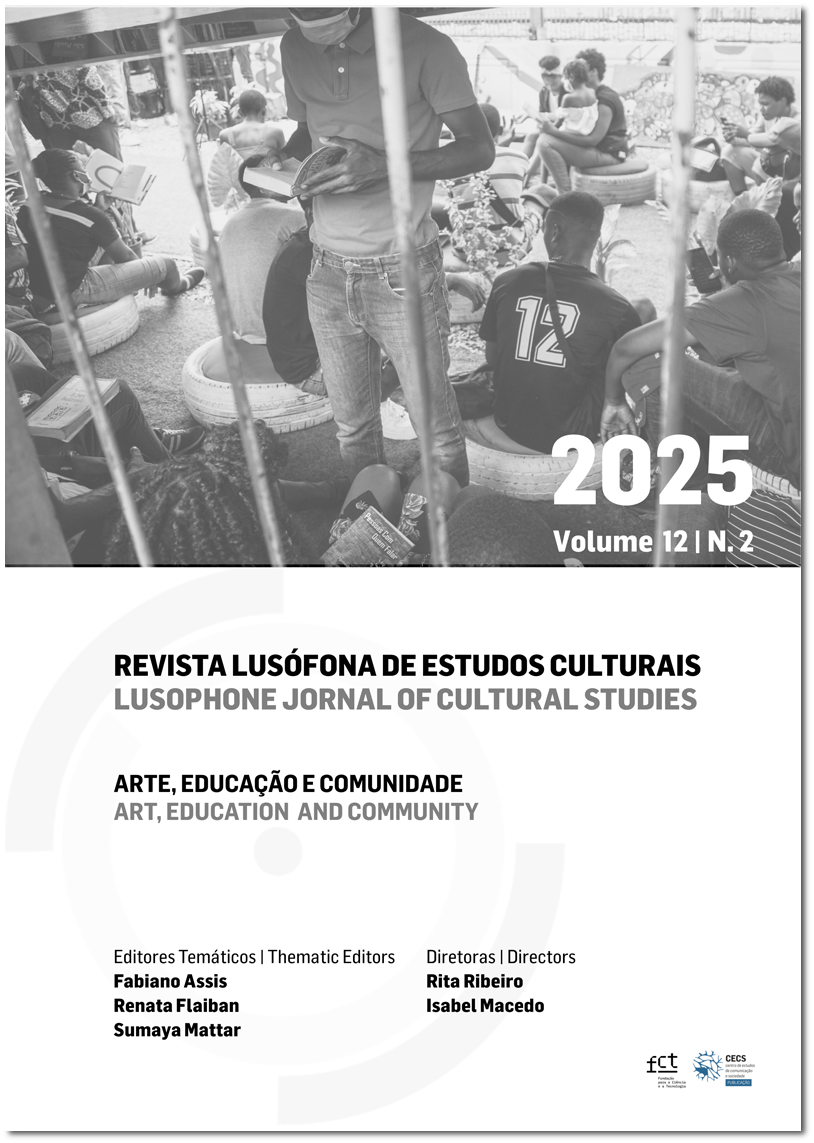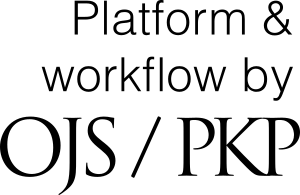Cinema e Realidade Virtual nas Aulas de Arte Como Meio Para Promover Integração Social e Cultural
DOI:
https://doi.org/10.21814/rlec.6551Palavras-chave:
cultura visual, direito a olhar, arte-educação, capitalismo digitalResumo
Este artigo propõe um debate sobre a experiência estética, mediada pela tecnologia, em ações pedagógicas com cinema e realidade virtual nas aulas de arte em escolas públicas brasileiras. Parte-se da problemática em torno da colonialidade, configurando-a como um meio de dominação que perpetua desigualdades sociais e culturais em países periféricos, utilizando-se da visualidade como mecanismo para classificar, hierarquizar e estetizar povos e seus territórios. Museus e cinemas, podem contribuir na recomposição do “direito a olhar” por promoverem contato com expressões de contravisualidade. Porém, uma das consequências da desigualdade estrutural são as dificuldades de acesso a estes espaços devido a problemas de mobilidade urbana e infraestrutura. A educação tem um papel importante em minimizar esses efeitos, promovendo experiências estéticas com as tecnologias de apreciação e produção de imagens. A hipótese central deste texto sugere que práticas pedagógicas envolvendo o cinema e a realidade virtual, pautadas por ações de apreciação e produção de imagens, podem promover a alteridade e expandir percepções subjetivas ao democratizar e capilarizar o acesso à arte. Por meio de um estudo bibliográfico, explora-se implicações ético-estéticas da produção de imagens em ações pedagógicas. As discussões dos resultados indicam que essa experiência estética imersiva permite que os estudantes desenvolvam e qualifiquem seus pontos de vista em busca do seu “direito a olhar”, potencializando uma conexão crítica e inclusiva com a cultura. Conclui-se que tais dispositivos tecnológicos, com a mediação adequada, possibilitam aos estudantes a apropriação de sua cultura e a criação de imagens que refletem suas identidades, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais inclusivo e instaurando habitus que contribui para suspender hierarquias sociais e culturais.
Downloads
Referências
Almeida, R. de. (2017). Cinema e educação: Fundamentos e perspectivas. Educação em Revista, (33), e153836. https://doi.org/10.1590/0102-4698153836
Ayca, E. E. (2021). A dolorosa divisão da arte nos hierarquizou e colonizou por meio da ideia de educação universal. In Museu de Arte de São Paulo & Afterall (Eds.), Arte e Decolonização. Retirado em 18 de março de 2025, de https://masp.org.br/uploads/temp/temp-aIf507oKsnlgNFSID6Fe.pdf
Bailey, J. O., & Bailenson, J. N. (2017). Immersive virtual reality and the developing child. In F. C. Blumberg & P. J. Brooks (Eds.), Cognitive development in digital contexts (pp. 181–200). Elsevier.
Beccari, M. N. (2020). O direito de olhar a partir de Foucault, Spivak e Mbembe. ARS (São Paulo), 18(40), 344–388. https://doi.org/10.11606/issn.2178-0447.ars.2020.169553
Belloni, M. L. (2009). O que é mídia-educação? Autores Associados.
Bourdieu, P. (2008). A distinção: Crítica social do julgamento (D. Kern & G. J. F. Teixeira, Trads.). Zouk/Editora da USP. (Trabalho original publicado em 1979)
Buck-Morss, S. (1996). Estética e anestética: O “ensaio sobre a obra de arte” de Walter Benjamin reconsiderado. Travessia, (33), 11–41.
Bugarin, L. D. (2022). Abordagem pentagonal: Uma proposta de pedagogia para o ensino de artes plásticas - Do cinema narrativo à realidade virtual [Dissertação de mestrado, Universidade Federal Fluminense].
Bugarin, L. D. (2024a). Realidade virtual e experiência estética no ensino de arte. In F. B. Catelan (Ed.) Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo: Anais do II Congresso da Organização Paulista de Arte Educação (pp. 332–345). Opae.
Bugarin, L. D. (2024b). Realidade virtual no ensino de arte: Promoção de integração social e cultural por meio da recriação imersiva de imagens artísticas. In Anais do 47º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (pp. 1–15). Intercom.
Castells, M. (2011). A sociedade em rede. A era da informação: Economia, sociedade e cultura (Vol. 1, R. V. Majer, Trad.). Paz e Terra. (Trabalho original publicado em 1999)
Cesarino, L. (2022). O mundo do avesso: Verdade e política na era digital. Ubu Editora.
Cheibub, B. L., & Eugenio, J. de O. (2020). I live here, but I’ve never been inside it: Narratives on social tourism of the homeless population in the metropolitan area of Rio de Janeiro, Brazil. In M. A. F. Nogueira & C. M. S. Moraes (Eds.), Brazilian mobilities. (pp. 66–76). Routledge.
Comitê Gestor da Internet no Brasil. (2025, 11 de fevereiro). Cetic.br publica dados inéditos sobre o uso de tecnologias digitais por crianças brasileiras de até 8 anos. Cetic.br. Retirado em 11 de junho de 2025, de https://www.cetic.br/pt/noticia/cetic-br-publica-dados-ineditos-sobre-o-uso-de-tecnologias-digitais-por-criancas-brasileiras-de-ate-8-anos/
Dewey, J. (2010). Arte como experiência (V. Ribeiro, Trad.). Martins Fontes. (Trabalho original publicado em 1934)
Diodato, R. (2015). Sobre o sentido da experiência estética. Revista Tempos e Espaços em Educação, 8(17), 15–24. https://doi.org/10.20952/revtee.v8i17.4511
Dussel, E. (2008). Meditaciones anti-cartesianas: Sobre el origen del anti-discurso filosófico de la modernidad. Tabula Rasa, (9), 153–197. https://doi.org/10.25058/20112742.344
Fortunati, L. (2014). Media between power and empowerment: Can we resolve this dilemma? The Information Society, 30(3), 169–183. https://doi.org/10.1080/01972243.2014.896676
Fresquet, A. (Ed.). (2024). Proposta: Programa Nacional de Cinema na Escola. 19ª CINEOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto/Universo Produção.
Fresquet, A. (2025). Acervos audiovisuais digitais no contexto da educação digital: Políticas, desafios e possibilidades. Revista USP, (145), 15–26. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.i145p15-26
Fundação Bienal de São Paulo. (s.d.). Ka’a Pûera: Nós somos pássaros que andam. Retirado em 18 de março de 2025, de https://kaapuera.bienal.org.br/sobre-kaa-puera/
Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa. Atlas.
Hermann, N. (2005). Ética e estética: A relação quase esquecida. Editora da PUCRS.
Hui, Y. (2020). Tecnodiversidade. Ubu Editora.
Instituto Brasileiro de Museus. (2023). Formulário de visitação anual 2023. Coordenação de Produção e Análise da Informação. Retirado em 18 de março de 2025, de https://www.gov.br/museus/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/museus-publico/formulario-de-visitacao-anual-fva/formulario-de-visitacao-anual-2023.pdf
Imilan, W. (2018). Performance. In D. S. Z. Singh, P. Jirón, & G. Giucci (Eds.), Términos clave para los estudios de la movilidad en América Latina (pp. 147–152). Editorial Biblos.
Instituto Moreira Salles. (s.d.). Vídeo nas aldeias. IMS. Retirado em 23 de julho de 2025, de https://ims.com.br/convida/video-nas-aldeias/artepensamento.ims.com.br+15
Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., Robison, A. J., & Weigel, M. (2009). Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. The MIT Press.
Kaufmann, V. (2002). Re-thinking mobility. Contemporary sociology. Ashgate.
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (2014). Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
Lei nº 13.006, de 26 de junho de 2014 (2014). Acrescenta o § 8º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13006.htm
Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023 (2023). Institui a Política Nacional de Educação Digital e altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 9.448, de 14 de março de 1997, 10.260, de 12 de julho de 2001, e 10.753, de 30 de outubro de 2003. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14533.htm
Maciel, K. (2009). Transcinemas. Contra Capa Livraria.
Marsiglia, A. C. G. Pina, L. D., Machado, V. de O., & Lima, M. (2017). A Base Nacional Comum Curricular: Um novo episódio de esvaziamento da escola no Brasil. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, 9(1), 107–121. https://doi.org/10.9771/gmed.v9i1.21835
Martins, K. J. (2017). Oficinas de cinema: Olhares e participação de crianças e jovens na escola [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina]. Repositório Insitucional UFSC. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/188269
Martins, K. J. (2020). “A gente quer ver nosso filme”: Espaços de reconhecimento com cinema na escola. In G. Girardello & M. Fantin (Eds.), Trajetórias inventivas de pesquisa em educação contemporânea: Infância, comunicação, cultura e arte (pp. 531–549). Pimenta Cultural.
Martins, K. J., & Fantin, M. (2018). Espaços de participação na produção audiovisual de jovens estudantes na escola. Textura – Revista de Educação e Letras, 20(44), 130–151. https://doi.org/10.17648/textura-2358-0801-20-44-4532
Masschelein, J., & Simons, M. (2014). Em defesa da escola: Uma questão pública (2ª ed., C. Antunes, Trad.). Autêntica. (Trabalho original publicado em 2013)
Migliorin, C. (2015). Inevitavelmente cinema: Educação, política e mafuá. Beco do Azougue.
Mignolo, W. D. (2005). A colonialidade de cabo a rabo: O hemisfério ocidental no horizonte conceitual da modernidade. In E. Lander (Ed.), Colonialidade do saber: Eurocentrismo e ciências sociais (pp. 33–49). Clacso.
Mirzoeff, N. (2016). O direito a olhar. ETD - Educação Temática Digital, 18(4), 745–768. https://doi.org/10.20396/etd.v18i4.8646472
Nemer, D. (2021). Tecnologia do oprimido: Desigualdade e o mundano digital nas favelas do Brasil. Milfontes.
Oiticica, H. (2006). A transição da cor do quadro para o espaço e o sentido de construtividade. In G. Fereira & C. Cotrim (Eds.), Escritos de artistas: Anos 60/70 (pp. 82–95). Zahar.
Paiva, A. S. (2022). A virada decolonial na arte brasileira. Mireveja.
Pinto, J. R. (2012). O papel social dos museus e a mediação cultural: Conceitos de Vygotsky na arte-educação não-formal. Palíndromo, 4(7), 81–108. https://doi.org/10.5965/2175234604072012081
Projeto de Lei nº 2.630, de 13 de maio de 2020. (2020). Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Senado Federal. Retirado em 23 de julho de 2025, de https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141944
Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidade. Perú Indígena, 13(29), 11–20.
Richter, A. (2025, 26 de junho). Entenda a decisão do STF sobre responsabilização das redes sociais. Agência Brasil. Retirado em 23 de julho de 2025, de https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-06/entenda-decisao-do-stf-sobre-responsabilizacao-das-redes-sociais
Saura, G., Adrião, T., & Arguelho, M. (2024). Reforma educativa digital: Agendas tecnoeducativas, redes políticas de governança e financeirização EdTech. Educação e Sociedade, 45, 1–22. https://doi.org/10.1590/ES.286486
Silveira, S. A. da. (2021, 25 de novembro). O colonialismo digital e o convite à impotência. Outras Palavras. Retirado em 18 de março de 2025, de https://outraspalavras.net/tecnologiaemdisputa/o-colonialismo-digital-eo-convite-a-impotencia/
Schiller, D. (1999). Digital capitalism: Networking the global market system. The MIT Press.
Srnicek, N. (2017). Platform capitalism. John Wiley & Sons.
Trajano Filho, W. (2024). Sobre a descolonização e seus correlatos. Anuário Antropológico, 49(1), 15–65. https://doi.org/10.4000/aa.11829
Valle, I. R. (2014). O lugar da educação nos projetos de modernidade: Escola e diferenciação social. In I. R. Valle, J. C. Hamdan, & M. D. Daros (Eds.), Moderno, modernidade e modernização: A educação nos projetos de Brasil – Séculos XIX e XX (Vol. 2, pp. 17–35). Mazza Edições.
Varoufakis, Y. (2025). Tecnofeudalismo: O que matou o capitalismo (E. N., Vieira, Trad.). Planeta do Brasil.
Vergara, L. G. (2011). Curadoria educativa: Percepção imaginativa/consciência do olhar. In: P. Helguera (Ed.), Caderno de mediação (pp. 57–60). Fundação Bienal do Mercosul.
Walsh, C. (2009). Interculturalidad, estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época. Universidad Andina Simón Bolívar/Abya Yala.
Walsh, C., Oliveira, L. F. de, & Candau, V. M. (2018). Colonialidade e pedagogia decolonial: Para pensar uma educação outra. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, 26(83), 1–16. https://doi.org/10.14507/EPAA.26.3874
Zuboff, S. (2021). A era do capitalismo de vigilância: A luta por um futuro humano na nova fronteira de poder (G. Schlesinger, Trad.). Intrínseca. (Trabalho original publicado em 2018)
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Secção
Licença
Direitos de Autor (c) 2025 Karine Joulie Martins, Luciano Dantas Bugarin, Adriana Mabel Fresquet

Este trabalho encontra-se publicado com a Licença Internacional Creative Commons Atribuição 4.0.
Os autores são titulares dos direitos de autor, concedendo à revista o direito de primeira publicação. O trabalho é licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.